por José Paulo Netto e Marcelo Braz
No estudo introdutório de qualquer corpo teórico voltado para a explicação e a compreensão da vida social — como é a Economia Política —, uma breve referência à sua história e a controvérsias que atravessam a sua evolução é indispensável.
Nas teorias que se voltam para a vida social, muito mais que naquelas que têm por objeto a análise das realidades da natureza, as controvérsias extrapolam as diferenças relativas a métodos, hipóteses e procedimentos de pesquisa; além de divergências nesses domínios, nas teorias e ciências sociais as polêmicas e mesmo as oposições frontais devem-se ao fato de elas lidarem com interesses muito determinados de classes e grupos sociais. Nessas teorias e ciências, nunca existem formulações neutras, assépticas ou desinteressadas — é o que reconhecem os pensadores mais qualificados: em meados do século passado, o economista sueco Gunnar Myrdal (1898-1987), Prêmio Nobel de Economia/1974, observava que “uma 'ciência social desinteressada' constitui [...] um puro contrassenso. Tal ciência jamais existiu e jamais existirá” (Myrdal, 1965: 104); e, cem anos antes, Marx já aludira com ironia ao peso dos interesses que constrangem a teoria de que nos ocupamos:
A natureza peculiar do material [que a Economia Política] aborda chama ao campo de batalha as paixões mais violentas, mesquinhas e odiosas do coração humano, as fúrias do interesse privado. A Igreja Anglicana da Inglaterra, por exemplo, perdoaria antes o ataque a 38 de seus 39 artigos de fé do que 1/39 de suas rendas monetárias. (Marx, 1983, I, I: 1983).
A Economia Política aborda questões ligadas diretamente a interesses materiais (econômicos e sociais) e, em face deles, não há nem pode haver “neutralidade”: suas teses e conclusões estão sempre conectadas a interesses de grupos e classes sociais. É por isso que, nesta Introdução, situando historicamente e de modo rápido a Economia Política, vamos também explicitar a perspectiva teórico-política que orienta a argumentação que sustentamos neste livro.
A Economia Política clássica
A expressão Economia Política, que tem origem no grego politeia e oikonomika, aparece, pela primeira vez, em 1615, quando Antoine Montchrétien (1575-1621) publica a obra Traité de L'Économie Politique
[Tratado de Economia Política]. E embora surja em textos de François
Quesnay (1694-1774), James Steuart (1712-1780) e Adam Smith (1723-1790),
é apenas nos primeiros vinte anos do século XIX que passa a designar um
determinado corpo teórico. Mas isso não significa que a Economia
Política só se constituiu e sistematizou como campo teórico na entrada
do século XIX — significa apenas que nesses anos ela passou a ser
reconhecida como tal.
Com
efeito, ao longo dos séculos XCVII e XVIII, desenvolveu-se e
acumulou-se o estoque de conhecimentos que haveria de estruturar a
Economia Política, resultante da contribuição, nesse decurso temporal,
de um largo rol de pensadores, dentro os quais caberia lembrar William
Petty (1623-1687), na Inglaterra, e Pierre de Boisguillebert
(1646-1714), na França. No entanto, o que se pode denominar de período clássico da Economia Política (ou, ainda, Economia Política clássica)
vai de meados do século XVIII aos inícios do século XIX; mais
precisamente, a Economia Política clássica “começa na Inglaterra com
Petty, e na França, com Boisguillebert” e “termina com [David] Ricardo
[1772-1823] na Inglaterra e [Jean-Charles-Leonard Sismonde de] Sismondi
[1773-1842] na França” (Marx, 1982: 47).[1]
Nos
maiores representantes da Economia Política clássica, Smith e Ricardo, a
despeito das diferenças entres suas concepções teóricas[2], encontram-se nitidamente duas características centrais da teoria que vinha se elaborando há quase duzentos anos.
A
primeira delas refere-se à natureza mesma dessa teoria: não se tratava
de uma disciplina particular, especializada, que procurava “recortar” da
realidade social um “objeto” específico (o “econômico”) e analisá-lo de
autônoma. Para os dois autores mencionados, como para vários daqueles
que os precederam, centrando a sua atenção nas questões relativas ao trabalho, ao valor e ao dinheiro, à Economia Política interessava compreender o conjunto das relações sociais que estava surgindo na crise do Antigo Regime[3] —
e naquelas questões “se explicitavam, de forma irrecusável, as
transformações em curso na sociedade, a partir da generalização das
relações mercantis e de sua extensão ao mundo do trabalho” (Teixeira,
2000: 100). Os clássicos da Economia Política não desejavam, com seus estudos, constituir uma
disciplina científica entre outras: almejavam compreender o modo de
funcionamento da sociedade que estava nascendo das entranhas do mundo
feudal; por isso, nas suas mãos, a Economia Política se erguia como
fundante de uma teoria social, um elenco articulado de ideias que buscava oferecer uma visão do conjunto da vida social. E mais: os clássicos não se colocavam como “cientistas puros”, mas tinham claros objetivos de intervenção política e social[4].
A
segunda característica da Economia Política clássica relaciona-se ao
modo como seus autores seus autores mais significativos trataram as
principais categorias e instituições econômicas (dinheiro, capital,
lucro, salário, mercado, propriedade privada etc.): eles entenderam como categorias e instituições naturais
que, uma vez descobertas pela razão humana e instauradas na vida
social, permaneceriam eternas e invariáveis na sua estrutura fundamental. Esse entendimento, os clássicos deviam-no à inspiração das concepções próprias do jusnaturalismo moderno, extremamente influente na Europa Ocidental dos séculos XVII e XVIII e que marcou vigorosamente a teoria política liberal (ou o liberalismo clássico) cujo grande representante foi o inglês John Locke (1632-1704).
Essa
característica, assim como a anterior, é indicativa do compromisso
sociopolítico da Economia Política clássica — sabe-se que o liberalismo
clássico constituiu uma arma ideológica na luta da burguesia contra o
Estado absolutista e contra as instituições do Antigo Regime. Nos
seus teóricos mais importantes (e, de novo, deve-se lembrar aqui Smith e
Ricardo), ela condensou os interesses da burguesia revolucionária que
se confrontava com os beneficiários da feudalidade (a nobreza fundiária e
a igreja). Naqueles teóricos, as influências jusnaturalistas e liberais
não são um acaso, mas sinalizam que suas realizações intelectuais
inserem-se no quadro maior da Ilustração que, como é notório,
configura um importante capítulo no processo pelo qual a burguesia
avança para a construção do seu domínio de classe, que assinalou, em
face da feudalidade, um gigantesco progresso histórico. Em resumidas
contas, a Economia
Política clássica expressou o ideário da burguesia no período em que
esta classe estava na vanguarda das lutas sociais, conduzindo o processo
revolucionário que destruiu o Antigo Regime — e não foi
por outra razão, aliás, que o filósofo húngaro Georg Lukács (1885-1971)
considerou-a a “maior e mais típica ciência nova da sociedade burguesa”.
Porém,
esse claro compromisso da Economia Política clássica com o programa da
Revolução Burguesa não converteu os seus grandes representantes, como os
citados Smith e Ricardo, em defensores cegos e acríticos da nova ordem
social que surgia. Na própria medida em que a Revolução Burguesa, à
época, expressava os anseios emancipadores da humanidade, os clássicos
dispunham de uma amplidão de horizontes que lhes permitia elaborar com
profunda objetividade a problemática posta pelo surgimento da nova
sociedade. No seu exemplo, pois, constata-se que a objetividade,
em matéria de teoria social, não é o mesmo que “neutralidade”:
precisamente por não serem “neutros”, defendiam uma ordem social mais
livre e avançada que a da feudalidade — por isso, os clássicos puderam enfrentar sem constrangimentos as novas questões econômico-sociais.
A crise da Economia Política clássica
Entre os anos vinte e quarenta do século XIX — ou, com mais exatidão, entre 1825/1830 e 1848[5] — desenha-se a crise e a dissolução da Economia Política clássica. Essa crise insere-se num contexto bem determinado: nessas décadas, altera-se profundamente a relação da burguesia com a cultura ilustrada de que se valera no seu período revolucionário, cultura que configura, no plano das ideias, o chamado Programa da Modernidade.
A cultura ilustrada condensa um projeto de emancipação humana que foi conduzido pela burguesia revolucionária, resumido na célebre consigna liberdade, igualdade, fraternidade. Entretanto, a emancipação possível sob o regime burguês, que se consolida nos principais países da Europa Ocidental na primeira metade do século XIX, não é emancipação humana, mas somente emancipação política. Com efeito, o regime burguês, emancipou os homens das relações de dependência pessoal, vigentes na feudalidade; mas a liberdade política, ela mesma essencial, esbarrou sempre num limite absoluto, que é o próprio regime burguês: nele, a igualdade jurídica (todos são iguais perante a lei) nunca pode se traduzir em igualdade econômico-social — e, sem esta, a emancipação humana é impossível.
Portanto, a Revolução Burguesa, realizada, não conduziu ao prometido reino da liberdade: conduziu a uma ordem social sem dúvida muito mais livre que a anterior, mas que continha limites insuperáveis à emancipação da humanidade. Tais limites deviam-se ao fato de a revolução resultar numa nova dominação de classe — o domínio de classe da burguesia. E não é preciso dizer que a existência daqueles limites contradizia as promessas emancipadoras contidas na cultura ilustrada.
Instaurando o seu domínio de classe, a burguesia experimenta uma profunda mudança: renuncia aos seus ideais emancipadores e converte-se numa classe cujo interesse central é a conservação do regime que estabeleceu. Convertendo-se em classe conservadora, a burguesia cuida de neutralizar e/ou abandonar os conteúdos mais avançados da cultura ilustrada. Por seu turno, as classes e camadas sociais que, ao lado da burguesia revolucionária, articularam o bloco social do Terceiro Estado e agora viam-se objeto da dominação burguesa trataram de retomar aqueles conteúdos e adequá-los a seus interesses.
O movimento das classes sociais, naqueles anos — entre as décadas de
vinte e quarenta do século XIX —, mostra inequivocamente que estava
montado um novo cenário de confrontos: não mais entre burguesia (que,
antes, liderara o Terceiro Estado) e a nobreza, mas entre a burguesia e segmentos trabalhadores, com destaque para o jovem proletariado. Se o movimento ludista inglês fora derrotado pouco antes, a ele substituiu-se o movimento cartista;
e, no continente, avolumam-se as rebeliões e insurreições. Todo esse
processo vai explodir nas revoluções de 1848; nas convulsões que abalam a
Europa, um novo antagonismo social central está agora na ordem do dia —
dois protagonistas começam a se enfrentar diretamente, a burguesia
conservadora e o proletariado revolucionário.
No plano das ideias, 1848 assinala uma inflexão de significado
histórico-universal: a burguesia abandona os principais valores da
cultura ilustrada e ingressa no ciclo da sua decadência ideológica,
caracterizado por sua incapacidade de classe para propor alternativas
emancipadoras; a herança ilustrada passa às mãos do proletariado, que se
situa, então, como sujeito revolucionário.
É nesse contexto que se compreende a crise da Economia Política clássica — sua crise é parte daquela inflexão, ocasionada pela conversão da burguesia em classe conservadora. Na medida em que expressa os ideais da burguesia revolucionária, a Economia Política clássica torna-se incompatível com os interesses da burguesia conservadora. Não é casual, portanto, que o pensamento burguês pós-1848 abandone as conquistas teóricas da Economia Política clássica — como também não é casual que tais conquistas se transformem num legado a ser assumido pelos pensadores vinculados ao proletariado.
É nesse contexto que se compreende a crise da Economia Política clássica — sua crise é parte daquela inflexão, ocasionada pela conversão da burguesia em classe conservadora. Na medida em que expressa os ideais da burguesia revolucionária, a Economia Política clássica torna-se incompatível com os interesses da burguesia conservadora. Não é casual, portanto, que o pensamento burguês pós-1848 abandone as conquistas teóricas da Economia Política clássica — como também não é casual que tais conquistas se transformem num legado a ser assumido pelos pensadores vinculados ao proletariado.
Uma observação é suficiente para indicar a incompatibilidade da Economia
Política clássica com os interesses da burguesia convertida em classe
dominante e conservadora. Trata-se do modo como aquela enfrentou o
problema da riqueza social (ou, mais exatamente, da criação de valores): para os clássicos, o valor é produto do trabalho.
Se essa concepção era útil à burguesia que se confrontava com o
parasitismo da nobreza, deixou de sê-lo quando pensadores ligados ao
proletariado começaram a extrair dela consequências socialistas. A
teoria clássico do valor-trabalho, que fora uma arma da burguesia na crítica ao Antigo Regime, torna-se agora uma crítica ao regime burguês: nas mãos de pensadores vinculados ao proletariado, a teoria do valor-trabalho serve para investigar e demonstrar o caráter explorador
do capital (representado pela burguesia) em face do trabalho
(representado pelo proletariado). Os clássicos puderam desenvolver a
teoria do valor-trabalho porque pesquisavam a vida social e econômica a partir da produção dos bens materiais, e não da sua distribuição;
por isso, não só a teoria do valor-trabalho era incompatível com os
interesses da burguesia conservadora; também o era a pesquisa da vida
social fundada no estudo da produção econômica.
Compreende-se, assim, que após 1848, tanto a teoria do valor-trabalho
quanto a investigação social e econômica a partir da análise da produção
tenham sido abandonadas pelo pensamento burguês conservador; mais do
que isso: foram consideradas “extracientíficas” pela Economia
que, a partir da segunda metade do século XIX, substituiu — na cultura
burguesa e especialmente nos meios acadêmicos — a Economia Política
clássica. E se compreende também que ambas, a teoria do valor-trabalho e
a análise social e econômica a partir da produção, tenham sido
recuperadas pelos pensadores vinculados aos interesses das massas
trabalhadoras.
Se, entre 1825/1830 e 1840, a Economia Política clássica experimenta a
sua crise, na segunda metade do século a sua inteira dissolução está
consumada — e isso se verifica até mesmo pelo desuso da expressão Economia Política.
De fato, o que resulta da dissolução da Economia Política clássica são
duas linhas de desenvolvimento teórico mutuamente excludentes: a
investigação conduzida pelos pensadores ligados à ordem burguesa e a
investigação realizada pelos intelectuais vinculados ao proletariado
(com Karl Marx à frente). Nos dois casos, a antiga expressão é
deslocada, no primeiro é abandonada e substituída pela nominação mais
simples de Economia[6]; quanto a Marx, ele sempre se refere à sua pesquisa como crítica da Economia Política.
E, em ambos os casos, a mudança de nomenclatura sinaliza alterações
substantivas na concepção teórica, relativas aos valores, ao objeto, ao
objetivo e a método de pesquisa.
A Economia vai se desenvolver no sentido de uma disciplina científica estritamente especializada, depurando-se de preocupações históricas, sociais e políticas. Tais preocupações serão postas à conta das outras ciências sociais que se articulam na sequência de 1848: a História, a Sociologia e a Teoria (ou Ciência) Política. No marco dessa “divisão intelectual do trabalho científico”, a Economia se especializa, institucionaliza-se como disciplina particular, específica, marcadamente técnica, que ganha estatuto científico-acadêmico. Adequada à ordem social da burguesia conservadora, torna-se basicamente instrumental e desenvolve um enorme arsenal técnico (valendo-se intensivamente de modelos matemáticos). Ela renuncia a qualquer pretensão de fornecer as bases para a compreensão do conjunto da vida social e, principalmente, deixa de lado procedimentos analíticos que partem da produção — analisa preferencialmente a superfície imediata da vida econômica (os fenômenos da circulação), privilegiando o estudo da distribuição dos bens produzidos entre os agentes econômicos e quando, excepcionalmente, atenta para a produção, aborda-a de modo a ladear a teoria do valor-trabalho.
Tal Economia, cujos esboços aparecem nos textos de autores que Marx qualificou como economistas vulgares[7], tem as suas primeiras formulações mais bem acabadas nas obras de William S. Jevons (1835-1882), Carl Menger (1840-1921) e Léon Walras (1834-1910). No curso de seu desenvolvimento, do fim do século XIX até os dias atuais, ela evoluiu no sentido de inúmeras especialidades e se diferenciou numa infinidade de “escolas”, lideradas em alguns casos, por intelectuais muito qualificados[8]. Perfeitamente integrada nos circuitos universitários, legitimou-se produzindo um corpo de profissionais credenciados para atuar como gestores nas empresas capitalistas e na administração pública.
A Economia vai se desenvolver no sentido de uma disciplina científica estritamente especializada, depurando-se de preocupações históricas, sociais e políticas. Tais preocupações serão postas à conta das outras ciências sociais que se articulam na sequência de 1848: a História, a Sociologia e a Teoria (ou Ciência) Política. No marco dessa “divisão intelectual do trabalho científico”, a Economia se especializa, institucionaliza-se como disciplina particular, específica, marcadamente técnica, que ganha estatuto científico-acadêmico. Adequada à ordem social da burguesia conservadora, torna-se basicamente instrumental e desenvolve um enorme arsenal técnico (valendo-se intensivamente de modelos matemáticos). Ela renuncia a qualquer pretensão de fornecer as bases para a compreensão do conjunto da vida social e, principalmente, deixa de lado procedimentos analíticos que partem da produção — analisa preferencialmente a superfície imediata da vida econômica (os fenômenos da circulação), privilegiando o estudo da distribuição dos bens produzidos entre os agentes econômicos e quando, excepcionalmente, atenta para a produção, aborda-a de modo a ladear a teoria do valor-trabalho.
Tal Economia, cujos esboços aparecem nos textos de autores que Marx qualificou como economistas vulgares[7], tem as suas primeiras formulações mais bem acabadas nas obras de William S. Jevons (1835-1882), Carl Menger (1840-1921) e Léon Walras (1834-1910). No curso de seu desenvolvimento, do fim do século XIX até os dias atuais, ela evoluiu no sentido de inúmeras especialidades e se diferenciou numa infinidade de “escolas”, lideradas em alguns casos, por intelectuais muito qualificados[8]. Perfeitamente integrada nos circuitos universitários, legitimou-se produzindo um corpo de profissionais credenciados para atuar como gestores nas empresas capitalistas e na administração pública.
A constituição dessa “ciência econômica” marca uma verdadeira ruptura
em face da Economia Política clássica. Desta, ela herdou uma
característica: a consideração das categorias econômicas próprias do
regime burguês como realidades supra-históricas, eternas, que não devem
ser objeto de transformação estrutural, senão ao preço da destruição da
“ordem social”; assim, para essa “ciência econômica”, propriedade privada, capital, salário, lucro etc..
fazem parte, natural e necessariamente, de qualquer forma de
organização social “normal”, “civilizada”, e devem sempre ser
preservados. Mas a “ciência econômica” abandonou resolutamente as ideias
que, formuladas pela Economia Política clássica, poderiam constituir
elementos de crítica ao regime burguês (por exemplo, a teoria
valor-trabalho, que foi substituída pela teoria da “utilidade
marginal”). e. com esse procedimento de princípio, tornou-se um
importante instrumento de administração, manipulação e legitimação da
ordem comandada pela burguesia.
Não
é a essa tradição teórica e política que se vincula a argumentação que
desenvolveremos nas páginas subsequentes. A opção teórico-política que
sustenta as ideias apresentadas neste livro remete à crítica da Economia
Política elaborada por Marx.
A crítica da Economia Política
Karl
Marx (1818-1883) aproximou-se das ideias revolucionárias que germinavam
no movimento operário europeu pouco depois de haver concluído o seu
curso de Filosofia (1841) — e, de 1844 até sua morte, todos os seus
esforços foram dirigidos para contribuir na organização do proletariado
para que este, rompendo com a dominação de classe da burguesia,
realizasse a emancipação humana.
Para Marx, o êxito do protagonismo revolucionário do proletariado dependia, em larga medida, do conhecimento rigoroso da realidade social. Ele considerava que a ação revolucionária seria tanto mais eficaz quanto mais estivesse fundada não em concepções utópicas, mas numa teoria social
que reproduzisse idealmente (ou seja, no plano das ideias) o movimento
real e objetivo da sociedade capitalista. Por isso, na perspectiva de
Marx, a verdade e a objetividade do conhecimento teórico não são perturbadas ou prejudicadas pelos interesses de classe
do proletariado; ao contrário, na medida em que o sucesso da ação
revolucionária da classe operária depende do conhecimento verdadeiro da
realidade social, o ponto de vista (ou a perspectiva) que se vincula ao
interesses do proletariado é exatamente aquele que favorece a elaboração
de uma teoria social que dá conta do efetivo movimento da sociedade.
É
assim que, ligado à classe operária e sob o estímulo de Friedrich
Engels (1820-1895), seu camarada de ideias e de lutas, Marx articulou,
numa pesquisa que cobriu quase quarenta anos de trabalho intelectual, a
teoria social que esclarece o surgimento, o processo de consolidação e
desenvolvimento e as condições de crise da sociedade burguesa
(capitalista). Das pesquisas de Marx resultou que a sociedade burguesa
não é uma organização social “natural”, destinada a constituir o ponto
final da evolução humana; resultou, antes, que é uma forma de
organização social histórica, transitória, que contém no
seu próprio interior contradições e tendências que possibilitam a sua
superação, dando lugar a outro tipo de sociedade — precisamente a sociedade comunista,
que também não marca o “fim da história”, mas apenas o ponto inicial de
uma nova história, aquele a ser construída pela humanidade emancipada.
A teoria social de Marx foi elaborada a partir da cultura ilustrada
a que já fizemos referência. Herdeiro intelectual da Ilustração. Marx
beneficiou-se de seus principais frutos: a filosofia clássica alemã
(notadamente o método dialético de Georg W. F. Hegel [1770-1831], a crítica social dos pensadores utópicos (especialmente Charles Fourier [1772-1837] e Robert Owen [1771-1858]) e a Economia Política clássica.
Esta última, com efeito, está na base da teoria social de Marx: a sua
crítica é um dos suportes da teoria social marxiana e não é por acaso
que a principal obra de Marx, O capital, tenha por subtítulo a expressão crítica da economia política[9].
A crítica marxiana à Economia Política não significou a negação teórica dos clássicos; significou a sua superação, incorporando as suas conquistas, mostrando os seus limites e desconstruindo os seus equívocos. Antes de mais, Marx historicizou as categorias manejadas pelos clássicos, rompendo com a naturalização que as pressupunha como eternas; e pôde fazê-lo porque empregou na sua análise um método novo (o método crítico-dialético, conhecido como materialismo histórico).
Realizando uma autêntica revolução teórica, Marx jogou toda a força da
sua preparação científica, da sua cultura e das suas energias
intelectuais numa pesquisa determinada: a análise das leis do movimento
do capital; essa análise constitui a base para apreender a dinâmica da
sociedade burguesa (capitalista), já que, nessas sociedade, o conjunto
das relações sociais está subordinado ao comando do capital. Por isso, a
própria obra marxiana só foi possível pela existência prévia da
Economia Política clássica, uma vez que nesta se encontravam elementos
que, submetidos a um tratamento historicizante e considerados sob nova
perspectiva metodológica, sinalizavam o movimento e o comando do
capital.
A Economia Política marxista
A
critica da Economia Política clássica realizada por Marx possibilitou o
conhecimento teórico da estrutura e da dinâmica econômicas da sociedade
burguesa. A análise das leis de movimento do capital e as descobertas
marxianas operadas na segunda metade do século XIX continuam válidas até
hoje porquanto, corridos cento e cinquenta anos, a nossa sociedade
permanece subordinada aos ditames do capital. Nesse lapso temporal,
porém e compreensivelmente, a sociedade burguesa experimentou
transformações muito profundas e emergiram fenômenos e processos que não
foram estudados por Marx.
Ao
longo do século XX, esses fenômenos e processos forma o alvo da
pesquisa de analistas que, inspirados por Marx (especialmente
incorporando o seu método crítico-dialético), procuraram esclarecê-los e
integrá-los ao corpo teórico instaurado pelo autor d'O capital, construindo o que se pode designar como Economia Política marxista[10].
Nesse esforço para ampliar o estoque de conhecimentos, realizaram-se
muitos avanços e novas descobertas se efetivaram — mas o campo da
Economia Política marxista registra no seu interior inúmeras polêmicas,
confrontos de ideias e de posições. Se há consenso sobre várias questões
e problemas novos, também há discrepâncias e dissensos e, curiosamente,
o debate envolve até mesmo o próprio objeto da Economia Política
marxista.
Neste
livro, partiremos da concepção geral que foi enunciada por Engels,
segundo o qual a Economia Política, “no sentido mais amplo, é a ciência
das leis que regem a produção e a troca dos meios materiais de
subsistência na sociedade humana” (Engels, 1972: 158); contudo, essa
concepção será considerada com a ênfase posta por Lênin: “o objeto da
Economia Política não é simplesmente a 'produção', mas as relações
sociais que existem entre os homens na produção, a estrutura social da
produção” (Lênin, 1982: 29).
Desenvolvendo e sistematizando tal concepção, o professor Oskar Lange afirma que o objeto da Economia Política é a atividade econômica,
ou seja, a produção e a distribuição dos bens com os quais os homens
satisfazem as suas necessidades individuais ou coletivas; essa produção e
distribuição constituem o processo econômico, e “o objetivo da
Economia Política [...] é estudar as leis sociais que regulam o processo
econômico”. Em Suma, “a Economia Política é a ciência das leis sociais
da atividade econômica”(Lange, 1963: 19).
No
presente texto, nosso objeto é a atividade econômica sobre a qual se
estrutura a nossa sociedade, a sociedade burguesa. O leitor terá aqui,
numa exposição panorâmica, uma síntese das análises desenvolvidas pela
Economia Política marxista e, com ela, pretendemos oferecer elementos
que julgamos fundamentais para a formação universitária de estudantes
das ciências sociais e humanas e, especialmente, para a formação
profissional dos assistentes sociais.
= = =
Notas:
[1] Ou, diversamente, nas palavras de Schumpeter (1968: 75): "[...] O nome dos economistas clássicos é geralmente dado aos economistas de primeira categoria, durante o período que vai da publicação da Riqueza das nações até a dos Princípios de J. S. Mill, em 1848". As referências são à obra, publicada em 1776, de Adam Smith, Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações e a de John Stuart Mill (1806-1873), publicada em 1848, Princípios de Economia Política.
[2] Diferenças que se prendem, inclusive, às conjunturas históricas em que os pensadores trabalharam — diversamente de Smith, Ricardo elabora suas concepções quando a Revolução Industrial já se consolida na Inglaterra e surgem as primeiras grandes manifestações do protesto e da rebeldia operários (o movimento ludista).
[3] Por Antigo Regime (em francês, Ancien Régime) designa-se o conjunto de instituições da feudalidade ocidental.
[4] Aloísio Teixeira verificou que o compromisso dos clássicos com os problemas da ascensão burguesa era igualmente prático, dados os vínculos que estabeleciam entre a Economia Política e as medidas de política econômica: "O momento histórico em que o interesse por assuntos econômicos vai atraindo um número crescente de pensadores, não só provenientes do campo da filosofia política, mas também homens com formação voltada para problemas práticos, é exatamente o momento da formação dos Estados nacionais e da generalização da relações mercantis, tais processos [fizeram] com que atividades como as relacionadas com finanças e tesouraria adquirissem nova importância [...] O objetivo dos autores que escreveram sobre problemas econômicos, nos séculos XVII e XVIII, não era a teoria per se, muito menos a construção de modelos abstratos de análise, mas a discussão e a a formulação de políticas concretas envolvendo tributos, moeda, comércio, preços etc." (Teixeira, 2000: 93-94). Quanto à diversidade de pensadores que se dedicaram à Economia Política, tal como referida por Teixeira, recorde-se que, se Adam Smith foi professor de Filosofia Moral na Universidade de Glasgow, David Ricardo foi um bem-sucedido operador da Bolsa de Valores de Londres.
[5] Por volta de 1825, manifestou-se a primeira crise econômica do capitalismo; em 1848, explodiram revoluções democrático-populares na Europa Ocidental e Central.
[6] Esta substituição — Political Economy por Economics — foi consagrada com a publicação, em 1890, dos influentes Principles of Economics [Princípios de Economia], de Alfred Marshall (1842-1924).
[7] Para Marx, entre outros, eram típicos representantes da “economia vulgar” William Nassau Senior (1790-1864), Fredéric Bastiat (1801-1850) e John Stuart Mill (1806-1873).
[8] Entre os quais cabe destaque para o austríaco Joseph A. Schumpeter (1883-1950) e o inglês John M. Keynes (1883-1946).
[9] O capital. Crítica da economia política compreende três livros em seis volumes; só o primeiro livro foi publicado por Marx (1867); o segundo e o terceiro foram editados por Engels (respectivamente em 1885 e 1894); um quarto livro d'O capital, que compreende três volumes, foi publicado (por Karl Kautsky, entre 1905 e 1910) e editado no Brasil sob o título Teorias da mais-valia. Recorde-se que, em 1859, Marx já publicara uma obra intitulada Para a crítica da economia política.
[10] Nos limites desse livro é impossível consignar o conjunto desses autores; indiquemos apenas, quase aleatoriamente e tão-somente, os nomes de R. Luxemburgo (1871-1919), V. I. Lênin (1870-1924), N. I. Bukharin (1888-1938), R. Hilferding (1877-1941), E. Varga (1879-1964), O. Lange (1904-1965), M. Debb (1900-1976), P. A. Baran (1910-1964), P. M. Sweezy (1910-2004), U. Kozo (1897-1977), E. Mandel (1923-1995), I. Mészáros (1930-) e F. Chesnais (1934-).
= = =
NETTO, J. P.; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006, pp. 15-26.
= = =
NETTO, J. P.; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006, pp. 15-26.
= = =

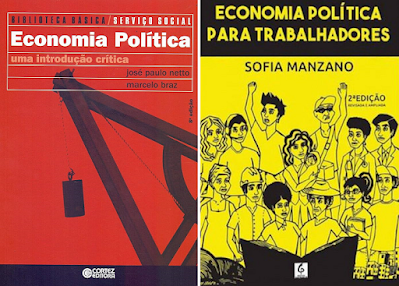
Nenhum comentário:
Postar um comentário